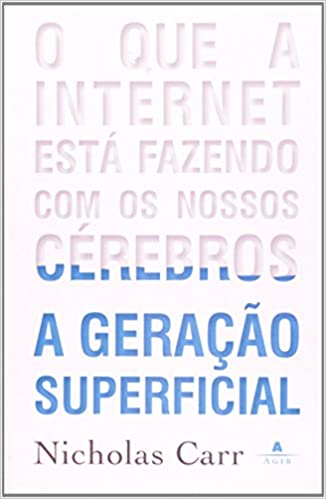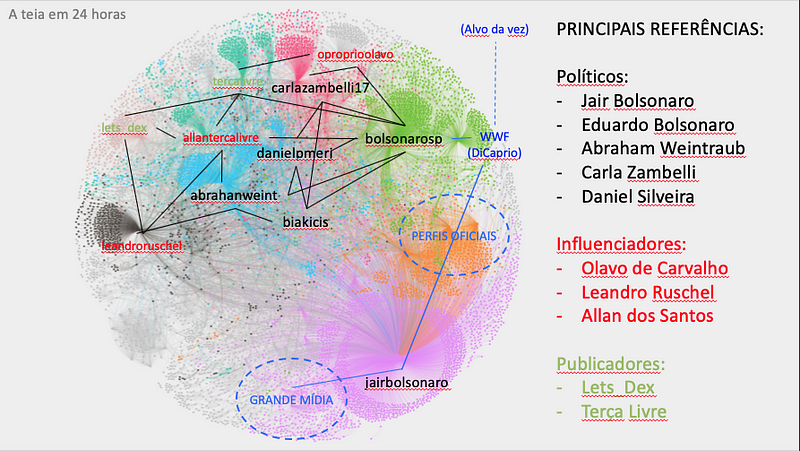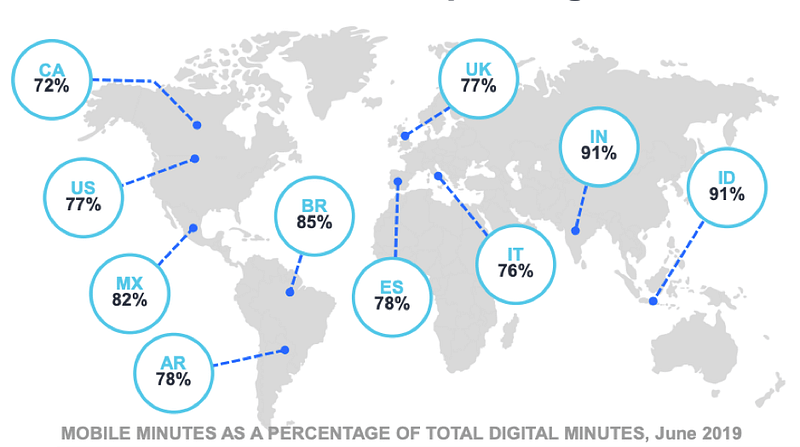– No que você está pensando?
– Em Hemingway.
Os dois caminhavam pela praia vazia de um dia frio e nublado. O mar estava calmo, apesar do tempo ruim. A espuma das ondas lentamente apagava as pegadas que deixavam pelo caminho.
– Pô, Hemingway? Tu vem aqui pra pensar em Hemingway?
Ele pega um punhado de areia com as mãos e joga na espuma de uma onda que acabara de recuar. – É. No Velho e o Mar. Livraço. Curtinho, tipo aqueles que a gente lia na escola, só que bom.
– História boa não precisa ser longa pra valer a pena, né?
– É…
Ficaram em silêncio, caminhando descalços e segurando os tênis. As ondas molhavam os pés com água gelada. Um mar de ideias revoltas batia contra os ossos do crânio de cada um. As palavras se embaralhavam no caminho até os lábios e morriam em uma espuma rala. Seguiram mais alguns passos. De tempos em tempos, o vento soprava forte e atravessava os agasalhos, limpando a espuma e deixando as palavras fluírem de novo.
– Você pensa em voltar aqui de novo… depois?
– Ah, sim, acho que sim. Minha família não deve vender a casa, vão acabar insistindo pra vir com eles nos feriados.
– Tá certo, faz bem. – Gaivotas passaram por eles. Algumas davam rasantes sobre o mar e arremetiam depois. – Qual é a história?
– Que história?
– Do livro. O Velho e o Mar.
– Ah. É muito boa. Um velho pescador, experiente, em sua luta final contra um peixe gigante. Um tubarão… ou um arenque, um peixe-espada. Sei lá. Era um peixe grande. Acho que os dois aprendem a se respeitar e morrem no final.
– Tubarão, arenque, acha que o velho morre… você lembra algo da história, afinal?
Param ao encontrarem uma concha na areia. Era uma bela concha, construída pela natureza ao longo de muito tempo. Meses, anos, séculos. A idade do objeto era um mistério, mas não reduzia sua beleza. Observaram a concha em silêncio, e depois a arremessaram com força ao mar.
– Pra ser sincero, não muito. Mas é engraçado. Tem história que você esquece os detalhes. Eles somem como se fossem escritos aqui, nessa areia. Mas a história fica. A história, sei lá, é maior que os personagens, que o que aconteceu de fato. Eu lembro que é um baita livro, que me emocionou, que valeu a pena. Isso me basta.
– Te entendo. As pessoas passam, as histórias ficam. Servem pra lembrar do que é importante e esquecer o que é só firula.
– Os lugares também. Essa praia. É só um lugar. Mas também é a história que cada um viveu aqui.
– E acabou que, depois de todos esses anos, não achei um puto de um cavalo marinho.
– Se um dia eu achar, eu te aviso.
– Se eu achar um por lá eu te aviso também.
O barulho das gaivotas em voo fez com que os dois olhassem para o céu cinzento. Assim ficaram por um tempo, observando o padrão de voo das aves.
– Será que tem? Será que dá pra montar em cavalo marinho? Um cavalo marinho voador? Que cospe fogo?
– Isso tá mais pra dragão – riu. – Mas talvez, quem sabe? Eu pergunto assim que chegar e te conto.
Subiram em silêncio em umas pedras no canto da praia, ajudando-se para escalar a rocha escorregadia e úmida.
– Tu vai puxar meu pé, aparecer no espelho do banheiro, ficar me chamando no final de um corredor escuro, essas coisas?
– Com certeza… tipo Freddy Krueger. Vou te azucrinar em forma de arenque.
– Falando nisso, o que é aquilo? – disse, apontado para algo em alto mar.
– Sei lá… será que é um tubarão?
– Cavalo marinho não é, lamento.
– Será um peixe-espada?
– Faz muita diferença pra história?
– Faz não.
– Faz não.
Ficaram olhando o suposto tubarão no mar. Então riram juntos, como o fizeram em muitos verões e invernos. E como jamais fariam novamente.